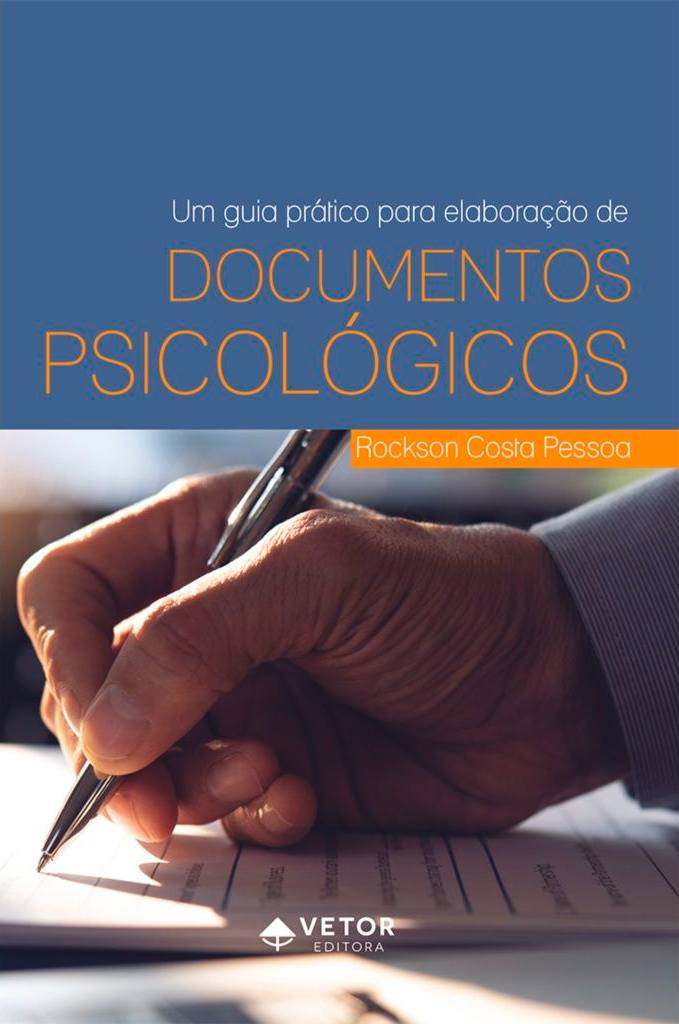A demanda chega como tantas outras: dificuldade de concentração, queda de rendimento, queixas difusas de memória. Nada que soe alarmante. Na primeira entrevista, o paciente é organizado, colaborativo, responde bem. Há ansiedade, mas dentro do esperado. A impressão inicial se forma rápido:
algo atencional, talvez associado a traços de personalidade mais rígidos? Hum, parece um bom caminho.
O teste escolhido é conhecido. Confiável. Já ajudou em muitos casos semelhantes. A aplicação corre bem. Os resultados são claros, coerentes, estatisticamente sólidos. O perfil “fecha”. Tudo parece se encaixar com a impressão clínica inicial.
Há um alívio silencioso nesse momento.
O dado confirma.
O caminho parece seguro.
A entrevista seguinte passa a girar em torno desse eixo. As observações comportamentais são lidas à luz do resultado. Pequenas inconsistências são relativizadas. Não parecem suficientes para justificar uma ampliação da avaliação. Afinal, o teste já respondeu.
O laudo começa a ser escrito com facilidade. Os parágrafos fluem. Há descrição cuidadosa dos resultados, referências normativas, linguagem técnica adequada. A conclusão é objetiva. Parece defensável.
Até que surge a pergunta.
Ela não vem durante a escrita. Vem depois. Na devolutiva. Ou em uma supervisão. Ou em uma troca informal com outro profissional.
“Mas por que essa hipótese e não outra?”
“O que te fez descartar tal possibilidade?”
“Esse resultado muda o que, exatamente, na decisão?”
O teste está lá. Os números também. Mas o caminho entre a queixa inicial e a conclusão final não está claro. Não porque não existiu, mas porque nunca precisou ser explicitado. O resultado deu segurança cedo demais.
Nesse instante, algo desconfortável aparece. Não é dúvida sobre o instrumento. É dúvida sobre a decisão. O teste continua sendo bom. O problema é perceber que ele entrou no processo antes da pergunta certa ser formulada e, quando entrou, passou a conduzir o raciocínio em vez de sustentá-lo.
A sensação não é de erro grosseiro. É de fragilidade tardia.
Nada “deu errado”, mas algo não está sólido. A decisão parece correta, mas não plenamente defensável. O laudo descreve bem, mas não explica por que aquele caminho foi seguido e outros não. O prontuário registra dados, mas não mostra o encadeamento das escolhas.
O teste ofereceu segurança. Mas segurança não é sustentação.
E é nesse ponto que muitos profissionais percebem, tarde demais, que não foi o instrumento que falhou. Foi o momento em que ele entrou no processo: cedo demais, forte demais, silencioso demais.
Onde, exatamente, a decisão começou a enfraquecer
O problema daquela cena não foi a escolha de um teste inadequado. Também não foi a aplicação, a correção ou a interpretação estatística.
O ponto de inflexão ocorreu antes de tudo isso, no instante em que o instrumento passou a organizar o raciocínio em vez de servir ao raciocínio.
Quando o teste entrou cedo demais, algo sutil aconteceu: ele reduziu a necessidade de formular melhor a hipótese. A impressão clínica inicial, em vez de ser tensionada, foi confirmada. As informações subsequentes passaram a ser lidas a partir daquele eixo. O processo seguiu em linha reta porque parecia não haver motivo para desviar.
Essa é a ilusão de segurança técnica.
O teste não “errou”. Ele apenas ofereceu uma resposta clara demais para um processo que ainda precisava de perguntas melhores.
Por que essa ilusão é tão convincente
Testes psicológicos carregam autoridade. São normatizados, validados, amplamente utilizados e associados a rigor científico. Quando seus resultados são coerentes com a impressão clínica inicial, produzem uma sensação de fechamento prematuro: agora há algo “objetivo” que sustenta a decisão.
O problema é que objetividade não é, por si só, sustentação.
Um resultado pode ser tecnicamente correto e, ainda assim, frágil do ponto de vista decisório quando não está claro que hipótese ele confirma, qual alternativa ele descarta e o que permanece em aberto após sua aplicação.
Na prática, isso faz com que o teste funcione como um atalho cognitivo. Ele economiza esforço interpretativo, reduz a tensão entre possibilidades e oferece conforto. O processo segue, mas segue mais pobre.
O sinal que quase sempre passa despercebido
Há um sinal simples de que a ilusão de segurança técnica se instalou: o resultado do teste não muda o caminho da decisão. Ele não amplia hipóteses, não exige reformulação, não obriga o profissional a reconsiderar nada. Ele apenas confirma.
Quando isso acontece, o teste não está sendo usado como evidência. Está sendo usado como escudo.
É nesse ponto que surgem laudos descritivos, mas pouco argumentativos. Prontuários ricos em dados, mas pobres em encadeamento lógico. Devolutivas que funcionam até alguém perguntar “por quê?”.
O que teria mudado a cena
Se o instrumento tivesse entrado depois de uma hipótese mais delimitada, sua função seria outra. Em vez de confirmar uma impressão geral, ele teria sido convocado para responder a uma pergunta específica. Em vez de fechar o processo, teria criado tensão interpretativa.
Talvez os resultados exigissem ampliação. Talvez entrassem em conflito com a observação clínica. Talvez obrigassem a reorganizar o raciocínio. Qualquer uma dessas possibilidades teria fortalecido a decisão final.
Decisões sólidas raramente nascem de processos confortáveis.
A virada necessária
A diferença entre decisões frágeis e decisões defensáveis não está em aplicar mais testes, mas em reposicionar o papel do instrumento. Testes não existem para tranquilizar o profissional. Existem para sustentar decisões difíceis.
Quando o teste é escolhido em função da decisão que precisa ser sustentada (e não em função do hábito, do custo do instrumento, da familiaridade ou da pressa) ele deixa de oferecer conforto e passa a oferecer critério.
E é exatamente aí que a prática começa a mudar.
Quando bons testes passam a proteger decisões frágeis
A ilusão de segurança técnica não nasce no instrumento em si. Ela nasce na forma como determinados testes, por serem familiares e confiáveis, passam a ser usados como ponto de chegada, quando deveriam ser meio de investigação.
Isso acontece com frequência em avaliações que envolvem personalidade, funções executivas e tomada de decisão. Será que escolhi o teste mais adequado ou escolhi o mais barato? Ou escolhi o mais caro porque é o mais conhecido? Para o contexto identificado, o teste que me servirá de meio de investigação é o adequado?
Um inventário como o NEO PI-R, por exemplo, oferece uma leitura robusta do funcionamento da personalidade. Ele ajuda a compreender padrões estáveis, modos de reagir ao ambiente, estilos de enfrentamento. O risco surge quando esse perfil passa a ser tratado como explicação suficiente para dificuldades complexas. Traços elevados deixam de ser contexto e passam a funcionar como causa única. O teste descreve bem, mas a decisão se acomoda cedo demais.
Algo semelhante ocorre com instrumentos projetivos ou expressivos robustos, como o Palográfico. Em muitos processos, ele entra como recurso exploratório legítimo, capaz de levantar hipóteses relevantes sobre ritmo, organização e controle. O problema aparece quando seus indicadores são usados para fechar conclusões que ainda exigiriam confronto com outros dados. O instrumento que deveria “sugerir”, acaba decidindo.
O mesmo vale para testes de interesses e inclinações, como QUATI e IPHEXA. Eles oferecem informações valiosas sobre preferências, motivações e tendências de escolha. Em avaliações vocacionais ou organizacionais, ajudam a mapear possibilidades. O risco está em transformar compatibilidade em destino, como se o resultado eliminasse a necessidade de compreender contexto, história e conflito. O teste aponta caminhos, mas não escolhe por ninguém.
Em avaliações neuropsicológicas, a armadilha assume outra forma. Instrumentos como o TOL-BR ou baterias de funções executivas são frequentemente convocados para validar hipóteses sobre planejamento, flexibilidade e controle inibitório. Quando entram no momento certo, cumprem esse papel com precisão. Quando entram cedo demais, passam a justificar decisões globais a partir de um recorte específico do funcionamento. O resultado é correto, mas o peso que ele recebe na decisão é desproporcional.
Em todos esses casos, o padrão se repete: o teste é bom, o dado é confiável, mas a decisão se apoia demais nele porque oferece algo raro na prática cotidiana: sensação de fechamento.
Usar testes de forma separada não é o problema
É importante dizer isso com clareza: utilizar um único instrumento, de forma isolada, não é necessariamente um erro. Em muitos contextos, é exatamente o que faz sentido.
Mas, o problema surge quando o uso isolado deixa de ser escolha técnica e passa a ser regra silenciosa. Quando o teste entra sem uma pergunta clara para responder. Quando seu resultado não altera o raciocínio, apenas o confirma.
Usar instrumentos de forma separada exige critério. Exige saber quando o objetivo é explorar, quando é testar e quando é refinar uma hipótese.
O uso harmonioso não é soma, é diálogo
Integrar instrumentos não significa aplicar tudo para todos.
Significa criar diálogo entre dados que cumprem funções diferentes.
Uma avaliação pode começar com instrumentos que ajudam a compreender o funcionamento da personalidade, passar por testes que tensionam hipóteses cognitivas e recorrer a medidas específicas para validar aspectos pontuais da queixa. Nem todos os testes precisam entrar em cena. Mas os que entram precisam conversar.
Quando os dados convergem, fortalecem a decisão.
Quando divergem, obrigam o raciocínio a se reorganizar.
Em ambos os casos, a decisão ganha sustentação.
O erro não está na divergência. Está em ignorá-la.
A pergunta que permanece
Depois de tudo isso, a pergunta volta, agora com mais peso:
Esse teste está ajudando a construir a decisão ou apenas a protegê-la?
Ele está respondendo a uma hipótese ou substituindo uma?
Enquanto essa pergunta não orientar a escolha dos instrumentos, decisões frágeis continuarão vestidas de rigor técnico.
E nenhum teste, por melhor que seja, corrige isso sozinho.
Onde a prática começa a se fortalecer
Reconhecer a ilusão de segurança técnica não resolve tudo, mas muda o eixo do problema. A partir desse ponto, a fragilidade deixa de ser invisível. O profissional passa a perceber que a decisão não se sustenta apenas com bons instrumentos, mas com critério, integração e método de leitura.
É justamente aí que muitos processos começam a exigir mais do que aplicação correta. Exigem repertório. Exigem capacidade de lidar com dados que não convergem. Exigem clareza para sustentar escolhas difíceis — inclusive quando elas são questionadas.
Esse nível de prática não se constrói apenas com experiência acumulada. Ele se desenvolve com formação continuada, com contato sistemático com casos complexos e com espaços que permitam revisar o próprio raciocínio sem pressa e sem julgamento.
Cursos, eventos técnicos e trocas qualificadas ajudam a ampliar critérios e atualizar o olhar. Supervisão, por sua vez, cumpre um papel ainda mais específico: sustentar decisões quando o caso é complexo demais para ser resolvido no automático. Não como correção de erro, mas como apoio ao raciocínio clínico.
Nenhuma dessas iniciativas substitui a prática. Elas a fortalecem.
Quando o profissional investe nesses espaços, algo muda no dia a dia. A escolha dos instrumentos se torna mais consciente. A integração dos dados ganha clareza. A decisão deixa de se apoiar apenas na sensação de segurança técnica e passa a se sustentar em um processo que pode ser explicado, defendido e revisado.
É nesse ponto que a prática amadurece.
Gostou da leitura e quer aprofundar ainda mais essa reflexão sobre decisões clínicas e prática documental?
A recomendação é o livro Um Guia Prático para Elaboração de Documentos Psicológicos, de Rockson Costa Pessoa. Fruto de muitos anos de atuação profissional em diferentes regiões do Brasil, a obra oferece orientações claras e aplicáveis para a elaboração de documentos psicológicos, como laudos e pareceres.
O livro esclarece dúvidas frequentes da prática, aprofunda discussões já iniciadas em trabalhos anteriores do autor e convida o leitor a pensar o documento psicológico não apenas como um registro técnico, mas como parte fundamental do processo decisório. É um guia acessível, atual e direto ao ponto, indicado para quem busca mais critério, clareza e sustentação no raciocínio profissional.